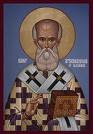“A minha leitura e interpretação pessoal das provas é esta. Como milhões de outros alemães e alemãs, e de um bom número de espíritos eminentes fora da Alemanha, Heidegger foi colhido pelo transe eletrizante da promessa nacional-socialista. Viu nela a única esperança para um país nas garras do desastre econômico e social. Além disso, o nazismo a que Heidegger aderiu ainda estava mascarando sua barbárie essencial. Foi o erro e a vaidade de Heidegger, tão característicos do acadêmico, acreditar que poderia influenciar a ideologia nazista, que poderia levar sua própria doutrina de futuridade existencial a influir sobre o programa hitlerista enquanto, ao mesmo tempo, preservava o prestígio e a parcial autonomia da instituição acadêmica. Estava redondamente enganado. Mas se a fotografia a que me referi antes é algo que nos sirva de guia, Heidegger já em novembro de 1933 se sentia profundamente contrafeito entre seus colegas nazistas. A sua implicação oficial no movimento durou apenas nove meses e saiu – este ponto vale a pena ser reiterado – antes de Hitler ter assumido poderes totais. Muitos intelectuais eminentes fizeram pior.
Mas é o caudal de artigos e discursos de 1933-34 que fala, em voz alta, contra Martin Heidegger. É aí que ele vai muito além da obrigação oficial, para não falar do endosso provisório. A evidência é, penso eu, incontrovertível; existem conexões nítidas entre a linguagem e a visão de Sein und Zeit, especialmente as últimas seções, e as do nazismo. Quem negar isso é cego ou embusteiro. Em ambos – como em tão considerável parte do pensamento alemão, depois de Nietzsche e Spengler – existe o pressuposto de, simultaneamente magnetizado por e complacente com, um apocalipse iminente, de uma crise moral tão profunda nos assuntos humanos que as normas de moralidade pessoal e institucional devem ser – serão inevitavelmente – varridas. Havia no pseudomessianismo do fenômeno Hitler uma confirmação de algumas das mais sombrias mas profundamente enraizadas apreensões de Heidegger. O nazismo e a antropologia ontológica de Sein und Zeit enfatizam o caráter concreto da função do homem no mundo, a santidade primordial da ação e do corpo. Ambos exaltam o parentesco místico entre o trabalhador manual e sua ferramenta na inocência existencial que deve ser expurgada das pretensões e ilusões do intelecto abstrato. Essa ênfase é estreitamente vinculada à importância que se atribui às raízes, às intimidades do sangue e à lembrança que um ser humano autêntico cultiva com seu chão nativo. A retórica heideggeriana de “patriosofia”, de continuidade orgânica que liga a vida aos ancestrais mortos e enterrados perto uns dos outros, ajusta-se sem esforço ao culto nazista de “sangue e solo”. Concomitantemente, as denúncias hitleristas de “cosmopolitas sem raízes”, da ralé urbana e da intelligentsia irrequieta que vive, parasitária, na superfície convencional da sociedade, condizem facilmente com a crítica heideggeriana da “alteridade”, da modernidade tecnológica, do desassossego fervilhante do inautêntico.
A “resolução” (Entschlossenheit) heideggeriana tem mais do que uma sugestão da mística do compromisso, da abnegação, do sacrifício pessoal e do élan autoprojetivo pregados pelo Führer e seus acólitos. Em ambos os casos está representado o realçamento do destino pessoal em vocação nacional e étnica que é analisado em Sein und Zeit. Em ambos, lógica e essencialmente, há uma exaltação da morte como o apogeu e plena realização da vida. Também neste caso há antecedentes hegelianos e nietzscheanos comuns. Se, como Heidegger argumenta, a história, no sentido tradicional e criticamente avaliado, é destituída de significado, então essa falta de significado deve ser nitidamente delineada e mostrar que é um beco sem saída. Na recomposição hitlerista do passado histórico, no imperativo apocalíptico de um começo totalmente novo no destino alemão, Heidegger pôde encontrar uma confirmação de seu anti-historicismo mais técnico e mais esotérico.
Mas, acima de tudo, há o idioma de Sein und Zeit e o do jargão nacional-socialista. Ambos, embora em níveis obviamente diferentes, exploram o gênio do alemão para a escuridão sugestiva, seu talento para dar às abstrações (freqüentemente vazias ou meio cruas) presença e intensidade físicas. Há na suposição de Heidegger, simultaneamente metafórica e mesmérica, de que não é o homem que fala, quando a linguagem possui sua máxima eficácia, mas é a “própria linguagem através do homem”, uma sinistra sugestão da marca de inspiração de Hitler, no uso nazista da voz humana, como uma trombeta tocada por imensas e sobrenaturais entidades, para além da vontade ou julgamento mesquinho do homem racional. Esse motivo de desumanização é fundamental. O nazismo envolve Heidegger precisamente naquele momento, em seu pensamento, em que a pessoa humana está sendo desalojada do centro do significado e do ser. O idioma do puramente ontológico mistura-se ao do desumano.
Mas, apesar de repugnantes, os gestos e os pronunciamentos de Heidegger durante 1933-34 são admissíveis em sua maleabilidade. O seu completo silêncio depois de 1945 sobre o hitlerismo e o holocausto é que foi quase intolerável.
Toda a comunidade de pensamento sério de meados do século XX, tanto liberal como conservadora, secular ou teológica, social ou psicológica, procurou analisar os fenômenos de genocídio e o campo de concentração, com a brusca irrupção no calendário do homem das estações no inferno. O postulado de que Auschwitz e Belsen significam algum ponto zero na condição e definição de homem é hoje um lugar-comum. Para um filósofo, para uma testemunha alemã, para um ser humano pensante e sensível envolvido numa parte, pelo menos, dos eventos do período, não dizer absolutamente nada é equivalente a cumplicidade. Pois somos sempre cúmplices daquilo que nos deixa indiferentes. Existe, pois, alguma coisa que se possa argumentar como justificação para o total silêncio de alguém cujas últimas obras, de acordo com Martin Buber, “devem pertencer aos séculos”?
Só conjeturas são possíveis. Alegações de anti-semitismo são, no tocante à magnitude do caso, triviais, mas também, acredito eu, falsas. Fui incapaz de localizar sentimentos ou declarações antijudaicas nas obras de Heidegger, inclusive nas de natureza pública e política – um fato que, desde o início, o isola da corrente principal do nazismo. Se Heidegger foi, em certos níveis óbvios, um grande homem, um mestre cuja atividade filosófico-lingüística se ergue literalmente acima de vários aspectos da especulação contemporânea, ele também foi, ao mesmo tempo, um pequeno homem. Passou sua existência no meio de um círculo de admiradores incondicionais e, sobretudo em seus últimos anos, atrás de uma barreira de adulação. Suas incursões pelo mundo eram poucas e cuidadosamente orquestradas. É possível que ele não tivesse a coragem e a magnanimidade necessárias para enfrentar o seu próprio passado político e a questão da aliança da Alemanha com o barbarismo. Embora engajado na derrubada da metafísica tradicional, embora comprometido com uma concepção radical e anti-acadêmica de pensamento, Heidegger era, simultaneamente, um Ordinarius alemão, o detentor vitalício de uma cátedra prestigiosa, incapaz, emocional ou intelectualmente, de enfrentar, de “meditar em profundidade”, como ele diria, sobre o fácil colapso das instituições acadêmicas e culturais alemãs diante do desafio nazista.
Além disso, quando se reflete sobre a carreira de Heidegger, com sua maravilhosa economia de movimento e capacidade para gerar lendas (existem, neste aspecto, pontos definidos de contato com a carreira de Wittgenstein), o traço que se destaca preponderantemente é o de astúcia, de “esperteza campesina”. A boca apertada e os olhos pequenos parecem espreitar o interlocutor desde o fundo de um legado milenar de reticência sagaz. Em vista dos fatos e de sua própria participação neles, Heidegger pode ter intuído que uma recusa em dizer fosse o que fosse – mesmo quando, especialmente quando estivesse pontificando sobre política mundial e o materialismo americano-soviético – seria, de longe, a postura mais eficaz. Ao que se deve acrescentar, com toda a justiça, a possibilidade de que a enormidade do desastre e de suas implicações para a continuidade do espírito ocidental tenha parecido a Heidegger, como a outros escritores e pensadores, absolutamente além de qualquer comentário racional. Mas ele poderia, no mínimo, ter dito isso, e o interesse que manifestou pela poesia de Celan mostra que ele estava plenamente cônscio dessa opção.
Uma outra hipótese merece também ser examinada. O envolvimento de Heidegger com a Alemanha e a língua alemã, no que ele considera a afinidade ímpar de ambas com a aurora do ser e da fala do homem na Grécia arcaica, é um elemento determinante. A preeminência da Alemanha justamente naquelas atividades que podem ser as mais elevadas ao alcance do homem, a filosofia e a música, é um tema constante no pensamento e na autoconsciência alemães. De Bach a Webern, de Kant a Heidegger e Wittgenstein, é na esfera germânica que o gênio do homem parece tocar as culminâncias e sondar as últimas profundezas. Dada essa Geschick, essa “singularidade marcada pelo destino”, também é concebível que deva ser das entranhas do mundo germânico que brote a inumanidade suprema, os experimentos finais do homem com a sua própria potencialidade de destruição. Haveria um sentido, embora resistente, na verdade ofensivo, para a explicação pragmática ou analítica, em que a possibilidade de um Bach e de um Beethoven, de um Kant e de um Goethe, acarretaria – tão seguramente quanto a de um Wagner e de um Nietzsche – a probabilidade de uma catástrofe. Consubstanciando “homem e super-homem” ou o fenômeno da identidade humana em seu completo espectro de extremidades dialéticas, a Alemanha e a história alemã teriam o “destino” de autodestruição, de negação (abstrações para as quais Hegel e Heidegger encontraram termos de drástica expressão). Oferecer uma crítica dessa vocação “desde baixo”, tentar circunscrevê-la dentro dos limites do senso comum e da moralidade, seria tarefa inútil. Seria uma trivialização do trágico mas exemplar Dasein.
Talvez tenha sido de acordo com algumas dessas linhas-mestras (e elas não são inteiramente carentes de força de prova) que Heidegger pensou quando optou por ficar silencioso. Talvez a argúcia faça parte da ontologia fundamental. Não sei. O que resta é o silêncio frio e as evasivas abjetas dos seguidores de Heidegger (entre os quais os judeus constituem um implausível mas destacado contingente). O que também subsiste é a questão de como o silêncio, ao qual Celan parece aludir em seu enigmático poema “Todtnauberg”, harmoniza-se com a humanidade lírica dos últimos escritos de Heidegger.”
(George Steiner, Heidegger)
Tradução de Álvaro Cabral
«Te dormiste»
Há um dia